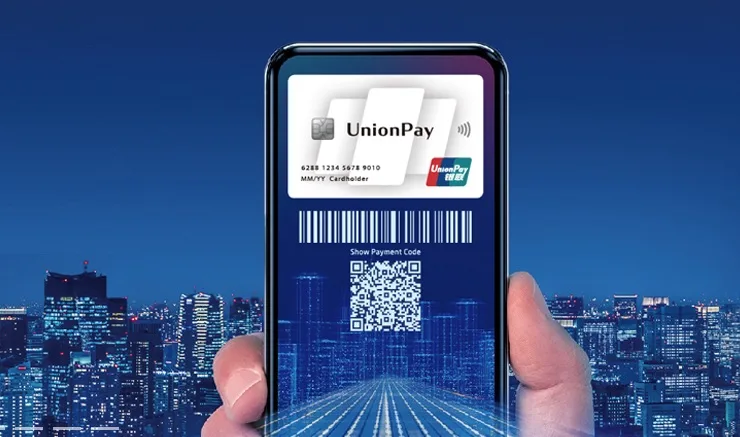Por: Marcio Aith
O decreto do IOF virou o símbolo mais recente de um Brasil que prospera nos indicadores e se deteriora na política. A decisão do governo Lula de elevar a alíquota tinha um objetivo claro: recompor parte da receita perdida com frustrações fiscais, aliviar pressões sobre o Orçamento e evitar cortes mais profundos em investimentos e programas sociais.
Na prática, era um movimento legal. Desde 1994, o Executivo tem prerrogativa para regular o IOF — tributo criado como instrumento de política monetária. O próprio artigo 153 da Constituição confere essa autonomia. Mas o Congresso atual já não reconhece esse espaço como inquestionável. A votação relâmpago que anulou o decreto — concluída em menos de 24 horas — foi menos sobre impostos e mais sobre território político.
O gesto foi celebrado como demonstração de força do Legislativo. Para o Planalto, soou como recado: quem quiser governar precisará antes negociar cada vírgula. Ao optar pela judicialização, Lula acendeu outra fagulha: a percepção de que o Supremo Tribunal Federal se tornou a única instância capaz de arbitrar crises institucionais que antes se resolviam por negociação.
O IOF, nesse sentido, é só o episódio mais didático de uma década em que o equilíbrio entre Executivo, Legislativo e Judiciário se dissolveu. O Planalto perdeu o monopólio sobre o Orçamento quando as emendas parlamentares explodiram. Entre 2014 e 2024, o total autorizado subiu de R$ 10 bilhões para quase R$ 50 bilhões por ano. Parte disso foi canalizada pelo chamado Orçamento Secreto, que sobreviveu mesmo após decisões do STF para dar transparência aos repasses.
Quando o Supremo interveio no modelo de distribuição das emendas, imaginou-se que haveria um rearranjo. Mas o Congresso apenas remodelou a ferramenta. O resultado é um sistema em que deputados e senadores controlam recursos sem a responsabilidade de apresentar soluções fiscais de longo prazo.
Enquanto isso, a economia brasileira experimenta uma recuperação estatística que parece deslocada do cenário político. A inflação, que ameaçava passar dos 7% em 2023, cedeu para patamares mais administráveis. O real se valorizou mais de 12% diante do dólar, aliviando a pressão sobre preços de alimentos e combustíveis. O mercado de trabalho abriu quase 150 mil vagas formais só em maio. A projeção do PIB para este ano ronda 2,2%.
Esses números sustentam o discurso oficial de que o país vive uma fase de normalidade econômica. Mas a estabilidade tem bases frágeis: a dívida pública, que era de 30% do PIB em 1994, chegou a 88% durante a pandemia e hoje ronda 78%. Quase um terço desse estoque está atrelado aos juros básicos, o que significa que qualquer aperto monetário gera impacto imediato no Tesouro.
A história recente oferece lições incômodas. Collor caiu em 1992 ao perder sustentação parlamentar. Dilma foi deposta quando se esgotou a capacidade de costurar apoios num Congresso fragmentado. Temer sobreviveu porque transformou as emendas em alavanca de fidelidade. Bolsonaro, que prometia romper com a “velha política”, ampliou os instrumentos de loteamento orçamentário.
Lula chegou ao terceiro mandato prometendo reconstruir pontes e recompor programas sociais, mas encontrou o mesmo cenário: um Legislativo que já não precisa do Planalto para se financiar e um Judiciário pronto para mediar cada disputa. O decreto do IOF escancarou essa nova configuração. Ao recorrer ao STF, o governo admite que já não controla os instrumentos clássicos da negociação política.
Para o Supremo, o dilema é desconfortável. Técnicos e ministros reconhecem que há precedentes favoráveis ao Executivo: decisões anteriores estabeleceram que o Legislativo não pode sustar decretos que não extrapolem poder regulamentar. Mas a decisão, qualquer que seja, terá custo político. Se validar o decreto, reforçará o discurso de que o tribunal atua como fiador do governo. Se mantiver a anulação, normalizará o esvaziamento de prerrogativas presidenciais.
Enquanto isso, o brasileiro médio assiste à disputa como quem revê um filme conhecido. O país já atravessou dois impeachments, CPIs, ciclos de moralismo e pactos que desmoronaram. Cada crise foi vendida como oportunidade de refundação. Cada tentativa de moralizar o sistema produziu novas fissuras.
Talvez esse seja o paradoxo mais inquietante: o Brasil consegue crescer, reduzir a inflação e gerar empregos, mas não consegue decidir quem manda de fato. Num ambiente em que Executivo, Legislativo e Supremo disputam o controle, o risco é que nenhuma decisão tenha estabilidade suficiente para durar.
A pergunta, portanto, permanece sem resposta: quem, afinal, governa o Brasil?